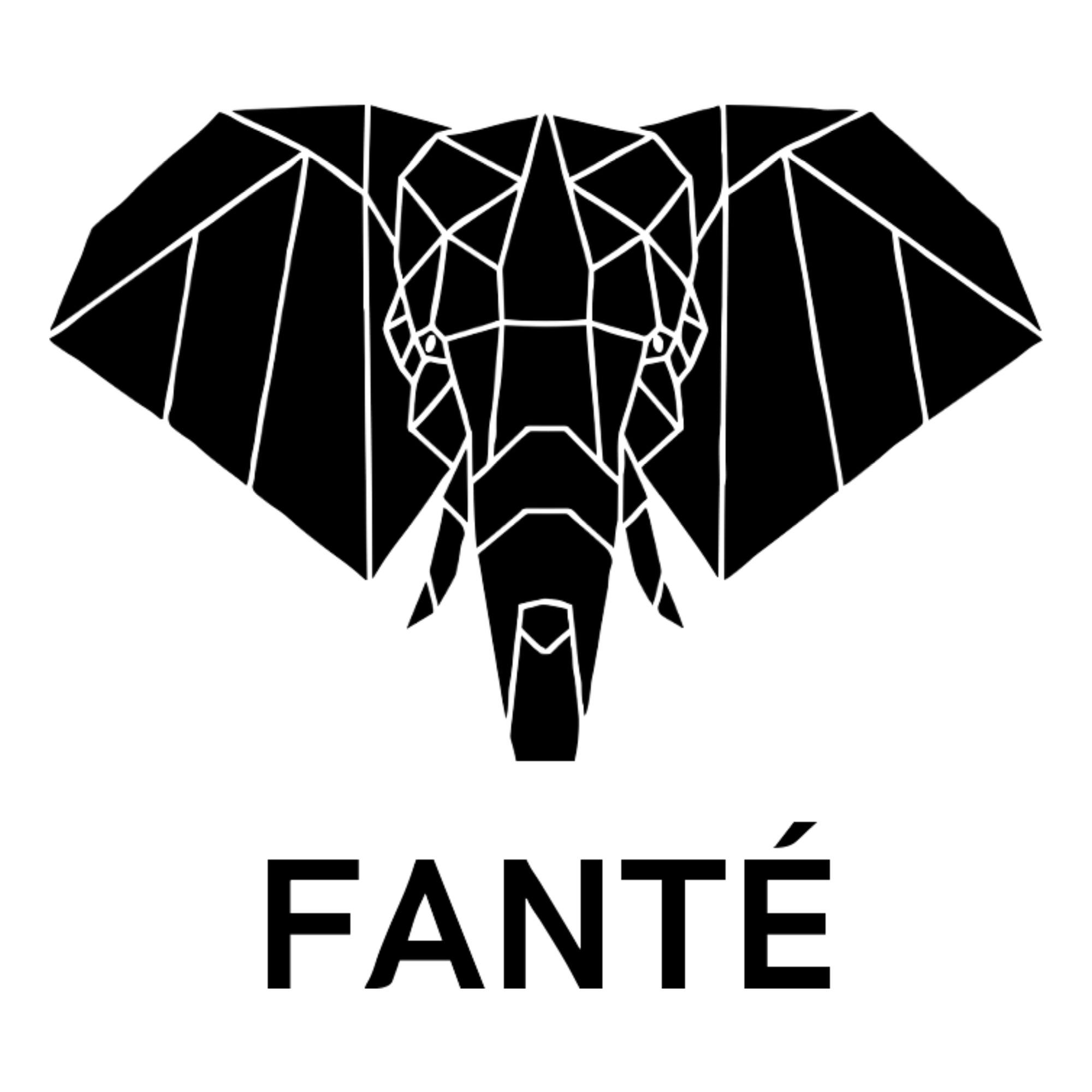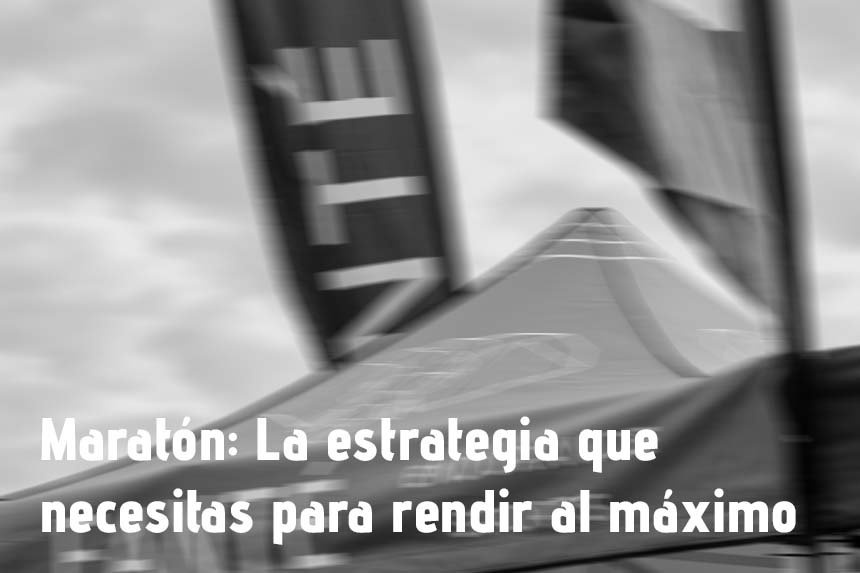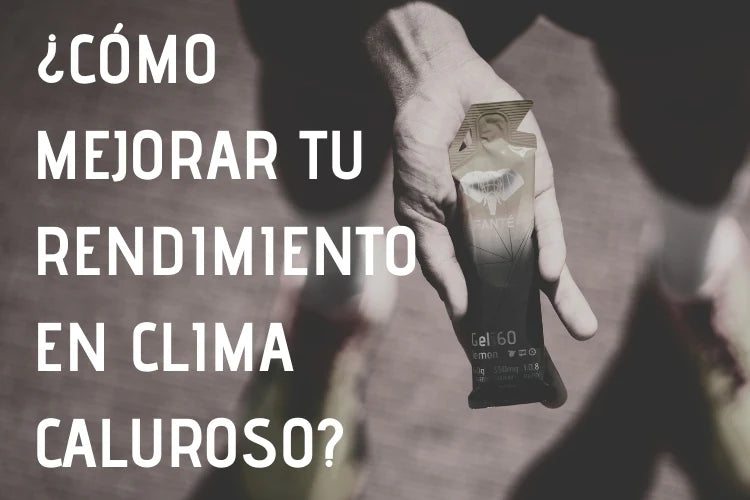O volume máximo de oxigénio (VO 2 máx.), uma qualidade que depende em diferentes graus de factores centrais (transporte de oxigénio e capacidade de captação) e periféricos (capacidade de extracção e utilização de oxigénio) , mas que, no entanto, não melhora na mesma ordem que aqueles factores puramente periféricos.
O VO2 máximo apresenta uma melhoria limitada, e isso está bem documentado na literatura científica. No entanto, outras variáveis relacionadas, como a eficiência ventilatória e, por conseguinte, a eficiência energética, ou a capacidade de produção de energia por oxidação, apresentam uma margem significativa para melhorias.
O exemplo, mais uma vez, são os atletas profissionais, cujas adaptações periféricas podem sempre ser melhoradas, mesmo que sejam boas. Então, de onde vem a melhoria?
Uma das respostas está nas adaptações metabólicas relacionadas com a função mitocondrial e tudo o que a envolve, bem como no melhor funcionamento das vias metabólicas e dos seus mecanismos regulatórios e adaptativos.
Outra possibilidade poderá estar na composição das fibras musculares e na função neuromuscular. Também encontraríamos respostas frequentemente ignoradas, por exemplo, na localização, composição e função dos diversos compartimentos subcelulares. É aqui que a localização dos triglicéridos intramusculares e o seu papel no exercício físico e no desempenho atlético começam a ser discutidos mais especificamente.
Triglicéridos intramusculares e atletas: A fatia de fiambre
É sabido que a gordura, os ácidos gordos, são armazenados em “gotículas” (principalmente triglicéridos) que estão interligadas em diferentes locais do corpo humano.
Os mais representativos, quantitativamente, encontram-se nas regiões subcutâneas e no tecido adiposo visceral profundo. Mas também, naturalmente, dentro dos músculos.
Estes triglicéridos são conhecidos como triglicéridos intramusculares (IMTG) e, se estão presentes, é porque servem como fonte vital de energia durante a contração muscular. Podemos compreender isto observando um "corte" de músculo de um atleta de resistência de elite (como uma fatia de presunto).
O que vemos neste corte é provavelmente muito semelhante a uma fatia de presunto ibérico alimentado com bolota, de um porco que se movimenta livremente, corre e se movimenta ao longo da sua vida.
Caracteriza-se por uma série de linhas brancas internas, entre os músculos, que são muito maiores em proporção ao seu conteúdo em ácidos gordos (tecido branco) em redor do músculo (fora da fatia, o que representaria aquela parte que habitualmente retiramos da fatia antes de a comer).
Se, por outro lado, cortássemos uma fatia de músculo a uma pessoa sedentária, encontraríamos poucas ou nenhumas linhas brancas entre os filamentos musculares e muito mais tecido adiposo em redor da fatia. Por outras palavras, é semelhante a um presunto de qualidade inferior de um porco que não se move.
É o que acontece quando comparamos os músculos de pessoas sedentárias ou com doenças metabólicas, como a diabetes tipo 2 ou a obesidade, com os de atletas profissionais de resistência.
Qual é a diferença entre os dois e porque é que este facto é tão importante para a saúde?
Apresento-vos o “paradoxo do atleta”.
Quando vários investigadores procuraram uma explicação para esta realidade, verificaram que as pessoas sedentárias ou com doenças metabólicas e a população de atletas de resistência não apresentam diferenças significativas em termos de conteúdo de IMTG, mas, na verdade, em muitos casos, estes últimos apresentam quantidades ainda mais elevadas. Considerando que a quantidade de IMTG tem sido negativamente associada à sensibilidade à insulina (quanto maior o IMTG, menor a sensibilidade), estas sempre foram o foco de atenção na exploração das causas deste tipo de doença. Se o conteúdo for semelhante ou até superior e a população de atletas de resistência não sofrer de doenças metabólicas (pelo contrário, são perfeitos nesse aspeto), onde está o cerne da questão? Talvez na localização.
A grande diferença entre ambas as populações está no local onde estes TGIM são armazenados, na localização subcelular.
Interessante. Em pessoas sedentárias ou doentes, parece que a IMTG é armazenada principalmente na região subsarcolemal.
Nos atletas de resistência, encontra-se na região intermiofibrilar, principalmente nas fibras do tipo I. A distribuição varia entre as populações. Por quê?
Porque a função de cada sub-localização também é diferente. Os IMTG localizados entre as miofibrilas desempenham um papel fundamental no fornecimento de energia durante a contração, como foi documentado pela medição da sua depleção e pela análise de como estes stocks se alteram durante o exercício físico.
No entanto, na fracção subsarcolemal, o conteúdo de IMTG não parece alterar-se durante o exercício, sugerindo que a sua função não é energética, mas sim reguladora do estado energético da célula (relacionado com a sensibilidade à insulina).
Agora volte à fatia de fiambre.
O facto de os IMTGs dos atletas de resistência se encontrarem numa fração mais próxima do músculo é suportado por uma lógica avassaladora. Quanto mais próximos, mais biodisponíveis. Mas, para além da lógica, isto também faz sentido metabólico e é suportado por evidências científicas: a sua capacidade de interagir com as mitocôndrias.
As mitocôndrias mais ativas encontram-se na zona intermiofibrilar, e é aqui que ocorre esta interessante relação entre o IMT e as mitocôndrias. Mais especificamente, é através de uma proteína chamada SNAP23, que também desempenha um papel importante na translocação dos transportadores de GLUT4 através da via da insulina.
A sua localização (diferente entre os doentes diabéticos tipo 2 e as pessoas saudáveis) não tem impacto na absorção de glicose durante o exercício, mas tem um impacto negativo na absorção durante o repouso.
Esta relação entre o IMTG e as mitocôndrias parece ter uma ligação funcional com a mobilização e utilização de energia, ou seja, maior biodisponibilidade e prontidão para utilização. Tudo isto, claro, está relacionado com a biogénese mitocondrial induzida pelo próprio exercício e, por isso, a sua distribuição é uma característica da população atlética.
Transporte de O 2
O que é que tudo isto tem a ver com o transporte de oxigénio e as variáveis que podem ser melhoradas?
Compreender como o oxigénio é transportado para as mitocôndrias. Após atravessar várias barreiras fisiológicas, o oxigénio é finalmente transportado para as mitocôndrias. Isto pode dar-nos uma ideia dos diferentes factores que determinam esta captação e transporte através da célula e para as mitocôndrias.
Sempre se assumiu que o oxigénio é transportado passivamente e sem grandes limitações.
O oxigénio é um elemento apolar que apresenta uma elevada solubilidade em lípidos, razão pela qual sempre foi sugerido que desempenha um papel fundamental no transporte destes.
Por exemplo, foi demonstrado que as barreiras lipídicas celulares preferem o oxigénio para "viajar" através da célula. Já foram propostas vias de "transporte rápido" entre as próprias camadas lipídicas, permitindo que o oxigénio viaje mais rapidamente.
Entre os lípidos que desempenham um papel importante nesta criação de canais de oxigénio de alta pressão parcial ou vias através das quais o elemento em questão é transportado com maior velocidade estão o colesterol e os triglicéridos.
Pelo contrário, os fosfolípidos ou algumas proteínas não geram tais canais, atrasando a passagem do O2.
Assim sendo, tendo isto em conta, uma das conclusões que se pode retirar da literatura científica existente sobre o tema está relacionada com o transporte de O2 das hemácias para as mitocôndrias.
Este transporte parece ser mais rápido e eficiente se utilizar canais ou vias cuja composição seja lipídica.
Não deixa de ser curioso que o O2 seja transportado mais rapidamente num fluido gordo do que num fluido aquoso ou, mais precisamente, numa gota de gordura.
Tanto na membrana como na mitocôndria, o transporte melhoraria se a composição e a localização dos ácidos gordos existentes fossem mais favoráveis.
Estas adaptações são inerentes ao exercício físico e desempenham um papel determinante nas doenças metabólicas.
Um arranjo mais próximo do TGIM poderia garantir um transporte de O2 mais eficiente, melhorando tanto a taxa como, por conseguinte, a disponibilidade para oxidação.
Já lhe falei anteriormente sobre o VO2 máximo e os fatores periféricos que impactam o seu transporte e utilização.
Bem, a questão que me coloco é se estas adaptações metabólicas e periféricas associadas à composição e localização do IMTG no músculo poderão determinar a capacidade de transporte de oxigénio e, por conseguinte, melhorar a sua utilização.
Treino e alimentação para melhorar o seu TGIM
Independentemente de considerarmos ou não esta hipótese, que poderá ser um elemento importante na melhoria da eficiência ventilatória, o papel do IMTG durante o exercício de resistência a nível bioenergético é bem conhecido.
É extremamente interessante observar como é a dinâmica de utilização dos mesmos, principalmente nas fibras do tipo I, durante exercícios de intensidade moderada, pois ajuda-nos a compreender que os IMTG são a principal fonte de gordura para o músculo esquelético, assim como durante a recuperação.
Ou seja, nos parâmetros de oxidação de gordura que medimos nos testes metabólicos, os MITGs contribuem com a maioria. E, mais uma vez, isso deve-se à sua elevada biodisponibilidade.
Além disso, é interessante realçar que a sua utilização, a utilização do TGIM, é regulada tanto internamente por
- sinais hormonais
- 2) sinais relacionados com o ambiente celular, como a nível externo através
Ora, tendo tudo isto em consideração, especialmente o importante argumento bioenergético, a questão é:
Como treinar e comer para melhorar a composição e a localização do GIM?
Treinar duro, mas bem. Se olharmos para o historial de qualquer ciclista do World Tour, podemos ver meses em que treinam entre 80 e 110 horas.
Da mesma forma, se analisarmos os recordes dos melhores corredores ou triatletas do mundo, encontraremos semanas de >180 km ou >35 horas, respetivamente.
Muito, muito tempo, muito volume.
Mas a que intensidades?
Importante. É possível treinar 90 horas por mês em alta intensidade? Ou mesmo em média intensidade?
Não.
Se voltarmos a estes registos, verificamos que a distribuição das intensidades é muito significativa.
O tempo decorrido a baixas intensidades (Z1-Z2) é >5 vezes maior que o de média intensidade (Z3) e >10 vezes maior que o de altas intensidades (Z4-Z5).
Este grande volume permite-lhes mobilizar recursos metabólicos relacionados com a utilização de ácidos gordos e, mais especificamente, com os MITGs, gerando adaptações que lhes permitem oxidá-los nas mitocôndrias com elevada eficácia e eficiência.
E nutrição?
Treinar a baixa intensidade não significa que a exigência metabólica seja baixa.
Sabe a que intensidade relativa um ciclista profissional de WT tem o seu limiar ventilatório igual a 1?
Ao mesmo nível, ou até mais elevado, do que um atleta amador pode atingir o seu limiar ventilatório 2.
Mas, para além disso, sabia que uma qualidade destes atletas é a sua elevada capacidade de produzir energia?
São motores de Fórmula 1, pelo que a sua produção é muito elevada, mas sem perder eficiência, antes pelo contrário, melhorando-a.
Um ciclista profissional pode gerar mais energia (kcal/min) do que um atleta amador na mesma intensidade, e isso é muito bom (ao contrário do que possa parecer), porque se traduz em mais energia mecânica, mais watts.
Estes ciclistas são melhores em tudo: produzir, gastar, fazê-lo de forma eficiente e criar e sintetizar o que gastam.
Tudo isto significa que, embora treinem a intensidades baixas a moderadas, o stress metabólico que suportam é muito elevado.
Por exemplo, um atleta pode consumir cerca de 18 a 20 kcal/min a uma intensidade moderada. Se multiplicarmos isto por um treino de 3 horas, podemos chegar a uma estimativa de mais de 3.000 kcal.
Compreende a alta procura por esses atletas? Como é que atendem a essa procura?
Um dos principais fatores que mais determinam a capacidade de treinar é o consumo de muita energia.
Estes atletas certamente o fazem.
Mas também, consumir uma fonte de energia que permita treinos de alto volume sob elevado stress metabólico. E estes ciclistas também fazem isso.
Consomem grandes quantidades de hidratos de carbono, não só durante o exercício, mas também fora dele (embora numa extensão muito menor).
Atingindo um consumo superior a 90 gramas por hora em géis energéticos como o nosso Gel 60
Mas em intensidades baixas e moderadas?
Deixe-me perguntar mais uma coisa.
Quantos g/min de glicose pensa que um destes “motores” consome a uma intensidade de VT1?
A resposta é muito, exactamente >1,8-2g/min.
Portanto, a oxidação do glicogénio e da glicose é elevada nestas intensidades, mesmo que queiramos entender esta zona como uma “zona mágica” onde apenas são utilizados ácidos gordos.
Por isso, a sua substituição é crucial.
Quanto à "zona mágica", não devemos pensar que a ingestão de hidratos de carbono limita a oxidação da gordura, ou melhor, a capacidade de gerar adaptações relacionadas, porque está longe de ser assim.
Os atletas com maiores taxas de oxidação de gordura são aqueles que consomem mais hidratos de carbono, especialmente durante o exercício.
Resumindo.
A melhoria da IMTG dependerá em grande parte da distribuição do volume e da intensidade do exercício. Volumes elevados estão associados a melhores adaptações. Para treinar nestes volumes, especialmente à medida que o nível do atleta aumenta, é necessário fornecer energia suficiente e, mais especificamente, hidratos de carbono, garantindo sempre uma disponibilidade considerável de lactato e glicogénio hepático e muscular.
Literatura
1.º Gemmink A, Daemen S, Brouwers B, Hoeks J, Schaart G, Knoops K, Schrauwen P, Hesselink MKC. Decoração de gotículas lipídicas miocelulares com perilipinas como marcador da dinâmica de gotículas lipídicas in vivo: Um estudo de microscopia de super-resolução em atletas treinados e indivíduos resistentes à insulina. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 2021 Fev;1866(2):158852.
2.Pias SC. Como se difunde o oxigénio dos capilares para as mitocôndrias dos tecidos? Barreiras e vias. J Physiol. 2021 Mar;599(6):1769-1782.
3.º Bergman BC, Goodpaster BH. Exercício e Conteúdo, Composição e Localização dos Lípidos Musculares: Influência na Sensibilidade Muscular à Insulina. Diabetes. Maio 2020;69(5):848-858.
4.º Morales-Alamo D, Losa-Reyna J, Torres-Peralta R, Martin-Rincon M, Perez-Valera M, Curtelin D, et al. O que limita o desempenho durante o exercício incremental de corpo inteiro até à exaustão em humanos? J Physiol. 2015;593(20):4631-48.